Conversamos com Daniel Confortin, autor do livro “A iluminação no olhar: Os usos da imagem na educação budista indo-tibetana”, resultado de um estudo de campo em sítios arqueológicos indianos e em monastérios nepaleses e da região da Caxemira, entre os anos de 2014 e 2015. Antes disso, Confortin passou anos viajando por essas regiões.
Daniel Confortin é graduado em Design pela Universidade Luterana do Brasil – ULBRA (2006), é especialista em Arteterapia pela Universidade de Passo Fundo – UPF (2008), Bacharel em Filosofia (UPF 2016), Mestre em Educação – PPGEdu UPF / Rangjung Yeshe Institue – Kathmandu University (2016) e doutorando em História (PPGH UPF). Atuou como professor no ensino superior (ULBRA – FSG – UPF), como arteterapeuta (CAPS – Passo Fundo) e professor de Filosofia no ensino básico.
Ao nos contar sobre o processo de pesquisa, também narra sua própria trajetória como praticante budista e acadêmico, caminho que resulta em sua ordenação monástica na ordem Soto Zen após sua volta ao Brasil, recebendo o nome de Monge Daiho 大法.
Olá, Daniel. Para começar, pode nos contar sobre como surgiram e se desenvolveram as ideias iniciais da pesquisa que deram origem ao seu livro?
Daniel Confortin: Como na época estava estudando thangka e escultura, maravilhado com todas as imagens que descobria, a pesquisa surgiu a partir de um questionamento do senso comum, que vê o Budismo como uma religião “menos religião que as outras” e que sempre se surpreende ao ver o enorme panteão de deidades das diversas tradições. No zen isso fica muito claro, aqueles que veem o Zen como apenas meditação se surpreendem que isso é o que menos se faz nos templos e monastérios japoneses. E de onde vem essa miríade de imagens e como o budismo justifica isso em sua filosofia? Essa é a questão central. Então analiso a imagem como ferramenta pedagógica transformadora, que sim serve como objeto meditativo, mas também como veículo de uma cultura extremamente complexa. A imagem como “encapsuladora” de uma quantidade enorme de informações que, ao contrário da concepção ocidental, pode ser lida com exatidão e ser uma forma confiável de transmitir conhecimento entre gerações.
Também questiono as origens das primeiras imagens budistas e a famosa teoria do “aniconismo”, onde afirma que a representação visual de Buda só surgiu séculos depois de sua partida. Na segunda parte do livro eu busco discutir como a literatura prajñāpāramitā ofereceu a base para a multiplicação imagética budista, literalmente a “mãe de todos os Budas”, inclusive transformando-se em uma deidade. Além de relatos pessoais e entrevistas com meus professores, ao fim do texto trago uma breve análise do texto “Establishing Appearances as Divine” do seminal erudito tibetano Rongzom Chokyi Zangpo que busca justificar o estágio de desenvolvimento (kyerim), a partir da lógica Madhyamaka. Enfim, é um livro que pode interessar qualquer praticante das diversas tradições budistas e que resume a jornada desses anos de Índia e Nepal com um fim trágico: o relato do terremoto e a experiência avassaladora da impermanência.
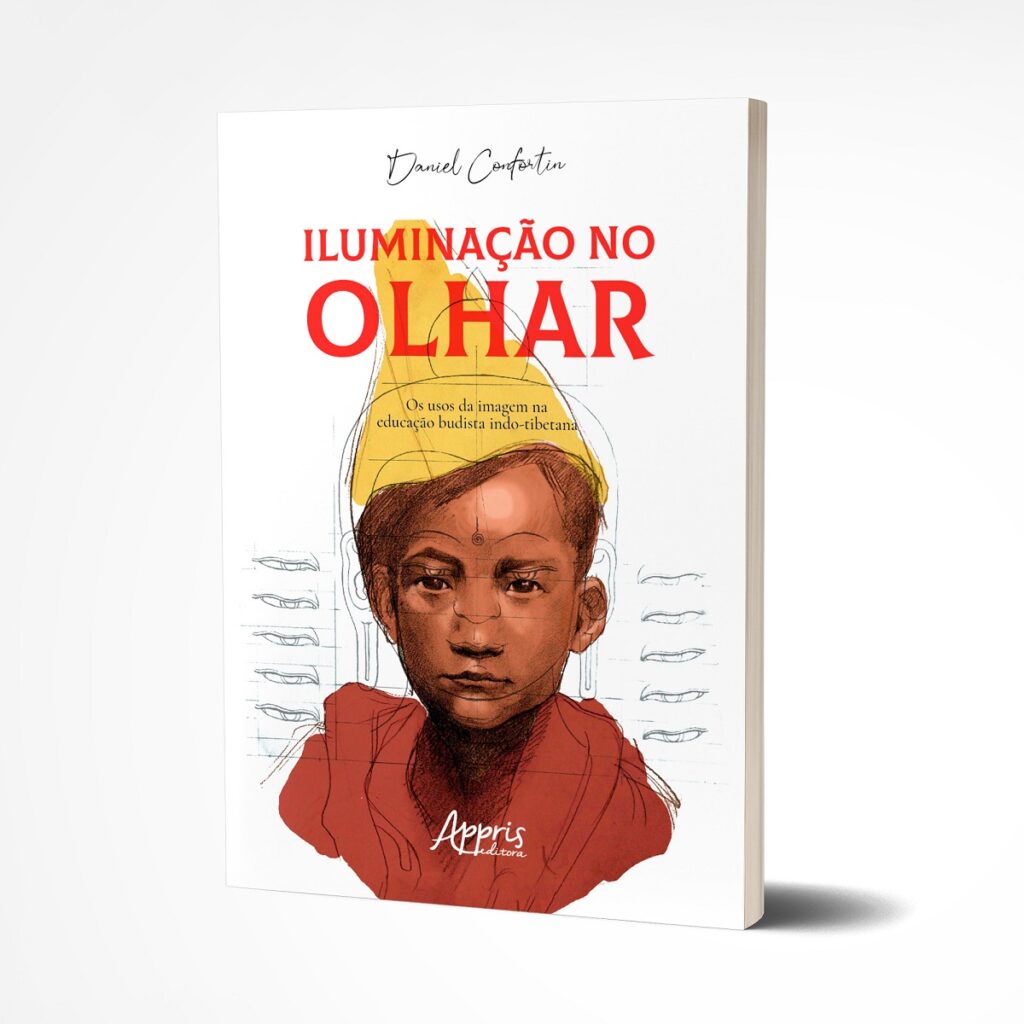
E como foi o começo de tudo? Pode nos falar um pouco sobre o seu primeiro contato com o Budismo e sobre quando percebeu que iria estudar e se aprofundar, trilhando esse caminho como praticante?
Daniel Confortin: Foram momentos diferentes. O primeiro contato foi em 1998, em um show de rock aqui no Sul do Brasil. Eu estava na plateia, com minha namorada nos ombros, e um lama tibetano começou a cantar no palco. Dezenas de milhares de pessoas ficaram quietas para ouvir o Chagdud Tulku Rinpoche e aquilo me impactou demais. Ele estava com um cachorrinho no colo e falou: “Eu percebo que vocês estão felizes e, de onde eu venho, a gente canta quando está feliz”. Quando ele começou a cantar com aquele vozeirão forte que tinha, a galera ficou em silêncio. Um monte de adolescentes alucinados silenciando para aquele lama cantando em tibetano. Ele estava no processo de construção do templo de Três Coroas na época e três anos depois eu fui lá como visitante.
Somente seis anos depois, por volta de 2004, eu me tornei um praticante. Havia um pequeno grupo aqui em Passo Fundo, onde eu nasci e onde estou hoje, ligado a Três Coroas e foi assim que tudo começou. E acho importante também citar as referências que tive do budismo brasileiro, como o do falecido professor Ricardo Mario Gonçalves, com seu livro Textos Budistas e Zen-budistas, também algumas publicações feitas pela editora Pensamento que eu encontrava em sebos. Esses foram os meus primeiros contatos textuais. Os primeiros retiros foram no Khadro Ling[1] e depois foi no CEBB[2], onde eu acabei estudando com a Tiffani Gyatso. Inclusive, ela foi responsável pelo pontapé inicial para eu ir à Índia. Fui para lá, inicialmente, não por causa do budismo, mas por causa das artes, do desenho e da escultura.

Então, na verdade, a sua pesquisa sobre thangka[3] e seus estudos sobre desenhos e esculturas surgiram antes da sua entrega ao budismo?
Daniel Confortin: Eu já era praticante, até mesmo por conta disso que decidi estudar thangka, mas ao mesmo tempo eu trabalhava com arte, eu tinha um ateliê de cerâmica, e também gostava de pintura. Estudei com a Tiffani e ao mesmo tempo fazia residência com um escultor, o Israel Kislansky, e quis tentar unir o útil ao agradável. Então, eu estava nos dois mundos. A Tiffani que fez a ponte com o professor lá em Dharamsala, o Karma Sichoe, que foi uma pessoa espetacular de conhecer. Ele e a esposa dele, a Mona, são amigos da Tiffani e ela me apresentou ao casal.
Mas pouco antes disso, eu fui para o Sul da Índia para estudar escultura, morei um tempo em Auroville[4] e no entorno da localidade existe a tradição da escultura chola, que tem uma característica peculiar da fundição deles que é monolítica, diferente da nossa fundição que costuma ser feita em partes e depois agrupadas. Eles têm uma técnica impressionante de fundição subterrânea. Depois, fui para Dharamsala e lá surgiu a ideia do livro de estudar essa profusão de imagens do Budismo Tibetano, tão diferente da visão que o senso comum ocidental tem do Budismo, que muito se deve aos primeiros contatos com o Zen, de que o budismo é carente de linguagens visuais.
Comecei a escrever artigos sobre thangka, assunto sobre o qual não havia quase que nada publicado em português, descrevi a minha experiência como aluno do Karma Sichoe. E existe aquele mito de artistas iluminados, um lama realizado que pinta, e existiram historicamente vários casos de praticantes realizados que usavam a arte como expressão, mas no geral são artesãos mesmo. O Karma, por exemplo, é um refugiado órfão que quase morreu na travessia do Himalaia e chegou ao centro de treinamento técnico de Dharamsala, onde aprendeu o básico para sobreviver, e foi chamado para ajudar a pintar um templo. Na época em que ele chegou, ainda adolescente, Dharamsala estava se formando, então tinham muitos templos sendo construídos, e ele viu nisso uma oportunidade de sobreviver. O que mais o inspirava era a luta política pela libertação tibetana; ele fazia parte, inclusive, de grupos que eram contra as estratégias do Dalai Lama. Ele até mesmo serviu no exército indiano, pois tinha o sonho de ir para a luta armada contra os chineses. Inclusive, ele fazia parte desses movimentos de esquerda que possuíam uma presença bem forte entre os exilados tibetanos.
Somente mais tarde mudou e passou a trabalhar mais na perspectiva religiosa. Esses foram dois mitos que deram origem à ideia do livro, o do artista iluminado e o da falta de imagens no universo budista. A partir daí que fui investigar o surgimento dessa abundância de imagens no Budismo Tibetano.

É interessante se tratar de um livro que é ao mesmo tempo um caderno de viagens e uma pesquisa acadêmica que fala também sobre pessoas que viajam, pois quando falamos do Budismo, falamos de grandes migrações históricas. O próprio Budismo Tibetano ganha essa projeção e força no mundo a partir do momento em que essas pessoas são obrigadas a fugir de seu próprio país. Além disso, temos as migrações voluntárias, como, por exemplo, dos missionários do Zen que partiram pelo mundo. E você estava também viajando, o que acaba resultando, em parte, em um processo metalinguístico de ao viajar se falar sobre a própria viagem e sobre a história de outros viajantes. Nesse sentido, qual a importância que você vê em sair do que considera o seu local? Afinal, como você disse, está agora no mesmo lugar em que nasceu, mas deu grandes voltas pelo mundo antes de retornar.
Daniel Confortin: Eu li um artigo que me marcou bastante sobre esse tópico, que é a importância da peregrinação na prática tibetana e na cultura himalaica. E eu relacionei isso com um filósofo do qual gosto muito, o Michel Onfray, que possui aquele livro “Teoria da Viagem” no qual fala que o corpo, ao se movimentar no espaço, de certa forma atua como uma esponja e se transforma. Ele também mostra como a geografia vai determinar a forma como pensamos e agimos. E no caso dos tibetanos isso é bem claro. As bênçãos vão se dar pelo contato físico com os objetos do lugar para o qual se peregrinou, seja esse objeto uma relíquia, o manto do lama, ou o toque dele em sua cabeça. As comidas, os cheiros, o sol, a umidade daquele lugar sagrado é que vão atuar na pessoa que vai de um lugar para outro. Nunca me esqueço de algo que escrevi no meu diário logo que cheguei à Índia: “O budismo só poderia ter surgido aqui”. Você chega lá e faz algumas relações com o ambiente geográfico, com o povo, e as coisas clicam. Assim como o Onfray diz que o monoteísmo só podia ter surgido no deserto, onde aquela vastidão repleta de nada, aquela amplitude sem fim dá espaço para o surgimento de um deus onipotente, onipresente e único. Mas na Amazônia não, como o Kopenawa coloca em “A Queda do Céu”, ou mesmo o Viveiros de Castro com seu perspectivismo, você vai se deparar com a ideia de que cada vida é um olho para aquele universo.
É interessante essa ideia de que cada vida é um olho, pois eu como linguista sempre pensei em cada língua como um olho criando um mundo possível naquela língua. Sobre as dificuldades que se enfrenta em uma viagem, conte um pouco sobre suas experiências. Pois você estava em um local diferente, cercado por uma outra cultura. Como foram seus primeiros contatos com esse local que você mesmo colocou como sendo o único possível para o surgimento do Budismo?
Daniel Confortin: Em termos de língua e comunicação, eu tive sorte, pois estamos em uma época em que existem centros estabelecidos, bons tradutores, bons professores que fazem o papel de ponte. Eu cheguei sem saber nada de tibetano, não que eu saiba muita coisa agora, mas eu consegui em um ano aprender o básico para poder ler pelo menos aquele texto que eu comento no livro de Rongzom Pandita, mas foi com muito esforço. E eu concordo plenamente contigo, a gente está trabalhando com mundos. E o mundo do tibetano é bem diferente e, aliás, é uma língua bem desgraçada, né (risos). Primeiro pela dissociação total com a fala. Você está trabalhando quase que com uma língua morta, o tibetano clássico, a escrita é como um fóssil vivo.
Eu acho que nunca estudei tanto na minha vida quanto no meu período lá. Eu, há época, queria aprender sânscrito ao mesmo tempo! Então o Lama Jigme Lhawang, que foi outra pessoa que me ajudou muito, disse “Não faça isso! Foque no tibetano clássico, não tente nem o coloquial agora”. E o meu objetivo era esse, estudar e traduzir alguns textos.
E voltando à questão da peregrinação tibetana, não existe essa ideia de penitência. Algumas pessoas relacionam prostração com penitência e não há nada mais equivocado. A prostração, além de trabalhar com aspectos internos, trabalha muito o físico, com a ideia de entrar o máximo possível em contato com os espaços sagrados. E muitas vezes são peregrinações que cobrem distâncias enormes com prostrações completas por todo o trajeto. Aquele artigo que citei anteriormente fala do retorno do peregrino e mostra que, para o tibetano, a força da deidade pode impregnar objetos com suas qualidades, assim a própria pessoa pode se tornar o espaço onde a deidade se coloca. E quando o peregrino volta para o seu lar, ele é tratado pelas pessoas como se ele tivesse se tornado o próprio lugar sagrado. Aí, por meio do contato, as pessoas que ficaram se conectam com aquele que se conectou com o lugar sagrado. Assim como a gente se conecta com os professores de uma determinada linhagem.

Quando visitamos um lugar sagrado, muitas vezes, percebemos que ele se tornou um ponto turístico. Ele mantém o sagrado se você tem olhos para isso, caso contrário é apenas mais um cenário turístico. Li uma vez um artigo do Stephen Batchelor, no qual ele fala que, apesar de se considerar um cético, fez muitas viagens como peregrino, e que tem uma reverência histórica e espiritual em relação a alguns locais. Porém, ele defende que você precisa de algum grau de imaginação para a experiência ser completa, senão você só enxerga a confusão criada pela multidão de turistas. Seria, portanto, necessária essa entrega imaginativa para experienciar um pouco da carga histórica, não só do acontecimento original que marcou aquele local, como a presença da árvore que seria descendente da árvore abaixo da qual Siddharta se sentou e meditou até despertar, mas também a carga histórica gerada ao longo do tempo pelas pessoas que foram até lá cheias de emoção e devoção. Assim, o local se torna mais do que o resquício histórico de um evento inicial, a própria peregrinação contribui, ano após ano, para a construção da mística do local. Pensando nisso, fale um pouco sobre os locais que mais tocaram você, seja pelo que você sentiu ao estar lá, seja por presenciar a devoção e emoção dos outros peregrinos.
Daniel Confortin: Com certeza na viagem que resultou no livro os lugares mais especiais foram a Caxemira e o Ladaque, que só se abriram ao turismo bem recentemente. Em 2009, quando eu estava na Índia, ainda era bem inacessível. E ainda hoje existem muitas zonas militares com acesso restrito na região, pois existe um esforço tanto do lado indiano quanto do chinês para demarcarem territórios. Existiam ainda muitos espaços intocados e, ao chegar, você se dava conta da enormidade do que foi feito lá.
O monastério de Alchi, por exemplo, é uma obra de arte, um tesouro da humanidade, independente do budismo ou de qualquer coisa. A arquitetura, as pinturas que sobreviveram ao longo do tempo nesse espaço, é tudo muito impressionante. Existe uma relação entre Mustang, no Ladaque, e as cavernas de Dunhuang. Há resquícios de uma cultura pan-asiática da rota da seda e de uma soma de diferentes olhares que resultaram na pujante arte tibetana. Nesses lugares, a gente tem a oportunidade de ver essa arte quando ela ainda não estava estabelecida como um cânone, era um momento em que tudo ainda era muito criativo.
Você citou o Batchelor e ele tem feito um trabalho muito legal ao lado da esposa sobre essa ideia de imaginação e meditação. E é justamente por aí, existia uma fluidez criativa, imaginativa, que gestou essas imagens que só depois se consolidaram como imagens das deidades. As cavernas de Maharashtra são impressionantes também. Ajanta não consta nos livros ocidentais de História, mas foi pioneira em questão de técnica, moralística, estilo. Arquitetonicamente é uma coisa absurda de se imaginar até, de tão impressionante. São esses os lugares que transformaram a minha visão daquilo que eu estava pesquisando. E isso é o mais legal das pesquisas, o meu problema inicial deu totalmente errado e ao final eu percebi que sem essa viagem, não haveria nada minimamente decente que eu pudesse escrever.


E você estava no Nepal durante o grande terremoto de 2015. E foi ele que deu um fechamento à sua viagem. Como você disse no livro, se deparar com tantas partes do Nepal destruídas de uma hora para a outra foi como ver uma mandala tibetana de areia sendo desfeita. Você nos contou sobre os lugares que foram mais marcantes para você, o que me levou a imaginar que lugares importantes para outras pessoas desapareceram de repente.
Daniel Confortin: E aí voltamos a falar da geografia, ao perceber a viagem como mandala. A experiência do terremoto é de poucos minutos, mas é chocante a ponto de você não acreditar no que está acontecendo. Eu e minha esposa, na época minha namorada, estávamos atravessando o vale e indo para Pokhara e parecia que estávamos em uma gelatina. Ainda consegui mandar mensagens antes da internet cair, depois ficamos uns dois dias sem comunicação. Se não tivesse entrado em contato, o pessoal teria surtado. Depois fiquei tentando ligar para os meus colegas de Shedra, enquanto eu telefonava, eu imaginava o telefone tocando ao lado de um cadáver, mas a maioria não ficou ferida, embora tenhamos conhecidos que morreram.
Aquela paisagem que eu me acostumei a considerar como casa desapareceu, uma porcentagem enorme dos espaços históricos de Kathmandu se foi. E eu tinha ficado na dúvida entre ir à Pokhara ou ficar em Kathmandu para assistir a uma convenção de tatuagens. Como eu já tinha ido à do ano anterior, escolhi Pokhara. E depois as pessoas que foram à convenção me contaram que foi um horror, pois ela aconteceu em um grande hotel que tinha lustres de gotas de vidro pontudas que caíram em cima das pessoas, houve mortos e muitos feridos. Depois, sobra uma sensação de culpa, como na guerra, você se pergunta por que sobreviveu.

Imagino que uma forma de combater esse sentimento de culpa, você que estudou o Caminho do Bodhisattva de Shantideva durante todo o ano anterior, foi conseguir formas de contribuir com as vítimas por meio da arrecadação de um fundo. Como foi isso?
Daniel Confortin: Foi algo que aconteceu espontaneamente. Tinha vários amigos no Brasil que se sensibilizaram com a situação e, na verdade, o grande mérito de organizar isso é deles, o Guilherme Samel e o João Pedro Demori. O Guilherme é aluno do Chökyi Nyima Rinpoche e o João Pedro é um amigo de longa data de Porto Alegre. E eles começaram a fazer uma rede de contatos e eu era só o ponto adiantado dessa mandala.
Eles criaram o grupo Ajuda Nepal e faziam propaganda em busca de doações. Na época, se não me engano, arrecadamos cerca de 30 mil reais. E tudo foi usado em coisas que podíamos acompanhar a entrega ou a execução. Majoritariamente foram três elementos: alimentos, lonas e medicamentos. E eles se intercalavam, porque chegou um momento em que você não encontrava mais medicamentos disponíveis em todo Nepal; medicamentos para dor, kit de primeiros socorros, nada. Tivemos que esperar um bom tempo isso vir da Índia, chegamos a contratar gente para pegar na fronteira. Com as lonas aconteceu o que sempre acontece nessas situações: elas ficaram escassas no mercado e o preço subiu. Então paramos um pouco de comprá-las e focamos nos alimentos. Duas ONGs ajudaram bastante a gente, uma ligada à juventude ao redor de Boudha e a do Chökyi Nyima Rinpoche, ambas tinham uma boa estrutura para nos dar suporte. Nós entrávamos com os recursos e tentávamos direcioná-los para os locais mais atingidos, como vilarejos nas montanhas. E eu não me esqueço de uma cena.
Esses lugares eram rotas de trekking e tinham casas de chá que foram destruídas. Então, no meio dos escombros, algumas senhoras tentavam achar qualquer coisa que pudessem vender, nem que fosse uma bolacha recheada! Montavam lojinhas improvisadas, para caso alguém passasse ali, sabe, já tentando recomeçar.

No total você passou quanto tempo, entre idas e vindas, viajando?
Daniel Confortin: Começou em 2009 e foi até maio de 2015 logo depois do terremoto. Mas essa última viagem especificamente, que minha esposa foi comigo, durou um ano. A gente namorava na época, não se conhecia há tanto tempo e ela disse que iria junto comigo. O livro, inclusive, é dedicado a ela. Passei esses dois semestres na Shedra e depois tinha que voltar para defender meu trabalho na faculdade.
Como foi essa volta? Como foi o sentimento de estrangeiro?
Daniel Confortin: Entre 2014 e 2015, a gente sabe o que aconteceu com o país. Eu saio do Brasil antes das eleições de 2014 e volto no meio do “furdunço” pró-impeachment. E começam essas massas fascistas a se abrirem novamente e eu sinto que eu volto para um outro país. Eu só penso em como em um ano o país pode ter se transformado dessa forma. Isso tudo somado ao choque do terremoto, de ter visto tudo o que eu conhecia ser literalmente abalado, e, quando eu volto, vejo que o Brasil também está sofrendo um terremoto. Foi uma estranheza muito grande. Fora as questões psicológicas, os traumas. Ficamos muito abalados. Meu pai foi diagnosticado com câncer terminal e sobreviveu ainda por nove meses.
Logo que eu voltei, eu comecei a lidar com as sessões de quimioterapia. Mas aí entra o que o Thomás mencionou, o Shantideva, para mim o grande elemento foi Bodhicaryāvatāra. Foi, então, que eu percebi que a gente não precisa de uma gama enorme de referências, pois quando se tem uma referência como essa, você encontra todas as ferramentas necessárias para lidar com essas situações. Para mim, tanto no terremoto quanto na morte do pai, o Bodhicaryāvatāra me serviu literalmente como um guia. Tanto que então eu criei um grupo aqui para o qual dei o nome de Shantideva.
Fale um pouco sobre essa sua abertura a uma multiplicidade de faces do Budismo, como surgiu isso? Como foi o desenvolvimento desse trabalho a partir do momento em que você volta ao Brasil.
Daniel Confortin: Começa com a ideia do Chökyi Nyima Rinpoche de Dharma House[5], um núcleo que tem uma ligação direta com a linhagem dele. Mas ele congrega outros elementos, como já acontecia lá no monastério onde eu tive professores ocidentais acadêmicos, mas também professores ligados às linhagens chinesas, japonesas, taiwanesas. Tinha um representante de, praticamente, cada lugar do sudeste asiático dentro do quadro de professores. Tudo isso tratado de uma forma muito dialética, saindo um pouco daquele sentido de superioridade que o Vajrayana às vezes tenta colocar. Mas é um sentido de superioridade que se dá historicamente em um contexto geográfico, fora do diálogo com outros. Tanto que a matriz do Vajrayana tibetano é aquele famoso debate entre o representante da tradição Vajrayana e o representante do Zen do qual mitologicamente o Vajrayana sai vitorioso.
Mas isso é uma forma de criar um passado mítico. A gente sabe que o debate ocorreu, sabe atualmente que ele não foi bem assim e, inclusive, o Zen, possivelmente, deixou alguns herdeiros tibetanos, de maneira bem sincretizada, mas deixou. Têm alguns elementos aí nas tradições Dzogchen e Mahamudra que apontam para isso. Então a ideia do Dharma House era de ter um centro onde todas as tradições convergissem; que é o que acontecia nas cavernas de Maharashtra, onde, como um espaço compartilhado, tinha a prática comum e os pensamentos divergentes. Existia uma metaprática ali, visões diferentes de um mesmo movimento em um mesmo espaço. E como vivemos em uma região onde não tem ainda um grande número de praticantes, ainda se focássemos em apenas uma perspectiva, talvez não tivéssemos a força para fazer o que a gente fez.
Logo depois veio essa ligação minha com o Zen, que era primeiro textual, de ter simpatia pelos textos do Zen, pelo Sutra da Plataforma, pelo Book of Serenity, pelo Blue Cliff Record, pelo Mumonkan. Tinha essa simpatia pelos koans e isso me fez convidar a Monja Isshin e ela veio dar alguns retiros, depois dos quais eu pedi ordenação. Faz quatro anos isso. E, também, me tornei aluno do Daniel Terragno Roshi que é ligado a uma linhagem soto-rinzai e tem um currículo de koans estabelecido e que, inclusive, virá ao Brasil em 2022. A comunidade cresceu, a Monja Isshin veio residir aqui, a gente já tinha cerca de 70 membros, e surgiu, então, a ideia da construção de um espaço que será inaugurado com a vinda de Terragno Roshi. Era para ter sido inaugurado em 2020, mas a pandemia não permitiu. A comunidade se transformou bastante em 2018 por causa da questão política. A gente tem essa tônica forte de ação social, de budismo engajado, de diálogo com a academia. A maior parte dos membros é ligada ou a movimentos sociais ou à universidade, muitos são professores e professoras.

Queremos agradecê-lo pela conversa e se você quiser falar algo mais para encerrar, sinta-se à vontade.
Daniel Confortin: Quando tentamos aproximar diferentes tradições é sempre difícil fazer isso mantendo-se fiel àquilo que se está aproximando. Mas eu acredito que esse seja o único caminho. Eu, apesar de ser monge dentro da Soto Shu e de ter trilhado o início do caminho básico até a transmissão do Dharma, acredito muito nessa ideia que o Chökyi Nyima Rinpoche coloca de scholar-practitioner, o erudito praticante, e tem surgido vários movimentos interessantes nesse sentido. Só para citar um, nós fazemos uma roda de conversa, a gente se reúne a cada 15 dias com tradutores de diversas línguas; há pessoas ligadas ao sânscrito, Giuseppe Ferraro, ao chinês, ao japonês, como o professor Joaquim, ao tibetano e ao pali, como é o professor Ricardo Sasaki, e a gente se reúne para buscar termos, conceitos em direção de uma compreensão mais aprofundada e de uma maneira completamente aberta, sem hierarquia, até mesmo anárquica. E eu vejo o caminho dessa forma. A gente precisa ressonar o caminho que a gente traz de tão longe com a nossa geografia, as nossas pessoas. Se não faz sentido na hora da morte, não faz sentido durante a vida.
Se a pessoa em um momento de crise muito forte, no momento da morte, tem uma prática significativa, quer dizer que ela realmente tomou raízes em um determinado espaço. E se isso ocorre de maneira coletiva, aí a gente conseguiu atingir o objetivo aqui do nosso grupo que é responder à questão do que é ser budista, praticar o Dharma, aqui no interior do Rio Grande do Sul. É preciso buscar esse equilíbrio entre o respeito à tradição e a uma fluidez para que as coisas façam sentido. Não adianta fazer cosplay de japonês. Não basta trabalhar a forma, embora ela seja muito importante, especialmente no Zen, mas a forma contextualizada, a forma que traga algo importante para aqueles que vivem em um espaço. Por exemplo, como fazer quando a gente vai discutir com os indígenas aqui da região, pois aqui, no norte do Estado e ao Sul de Santa Catarina, existem os maiores focos de resistência indígena. Não é com proselitismo, é preciso tentar buscar um espaço de diálogo para que a gente seja também socialmente relevante, não apenas um clube de meditação, não uma coisa asséptica. Esse, para mim, é um dos principais pontos, tanto da comunidade quanto da minha prática.
Entrevista realizada por Thomás Rosa e Tamara Carneiro. Praticantes na Daissen Ji, Escola Soto Zen.
[1] O Chagdud Gonpa Khadro Ling, localizado no município de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, é a sede sul-americana de uma rede de Centros de Budismo Tibetano Vajraiana fundado por Chagdud Tulku Rinpoche em 1995.
[2] Centro de Estudos Budistas Bodisatva, localizado em Viamão, RS.
[3] Thangka são pinturas religiosas em que budistas Vajrayanas representam deidades, mandalas e figuras históricas. Cada imagem possui medidas geométricas exatas pré-estabelecidas.
[4] Auroville é uma povoação internacional fundada em 1968, na costa do Tamil Nadu, no sul da Índia, construída com o propósito de promover uma convivência harmoniosa de seus moradores independentemente de nacionalidade, raça, crença e política.
[5] Segundo a página oficial, https://dharmahouse.org/, uma Dharma House deve servir como um lugar onde os novatos podem se encontrar com praticantes ou professores mais experientes que podem guiá-los em sua prática pessoal do Dharma. Cada casa deve realizar reuniões regulares em que a sangha possa compartilhar entre si sua compreensão dos ensinamentos e seu impacto na vida diária, praticar juntos e organizar os ensinamentos do Dharma.





